“Provêm da África oriental e do
nordeste os primeiros vestígios da existência do Homem e da formação da
sociedade humana (Garganta Olduvai, Norte da Tanzânia), com cerca de um milhão
e meio ou dois milhões de anos, que nos mostram seres hominídeos com cerca de
1,37 metros de altura, vivendo em pequenos grupo junto dos lagos da savana e
que lascavam a pedra para fabricar os primeiros instrumentos toscos com que
abatiam e cortavam os animais.
Há cerca de 50.000 ou 60.000
anos o homem africano utilizava o fogo para cozinhar e tornar mais tenras as
pecas de caca, podendo desse modo tornar mais eficiente a utilização das suas
reservas alimentares e permitir o alargamento das suas comunidades.
Os vestígios de esqueletos
provam que um tipo de homem moderno, diferente dos caucasóides da Ásia, da
Europa e do norte de África, e especialmente adaptado as condições dos trópicos
africanos, apareceu na África oriental cerca de 50.000 anos a. C. e que durante
cerca de 10.000 a 20.000 anos tal tipo evoluiu, por selecção natural, em duas
direcções diversas, consoante as exigências de dois ambientes diferentes. Um
dos resultado foi o negro, adaptado às condições de humidade da África
equatorial e ocidental, o outro uma variante mais adaptada às terras de
pastagem e às savanas mais secas da África oriental e austral, mais pequeno, o
khoi ou khoisan.
De momento não é possível datar
com segurança os progressos experimentados pela agricultura entre os negros do Sudão.
Mas pelos dados existentes as novas culturas ter-se-iam desenvolvido nas zonas
de savana entre 4.000 e 1.000 a.C. Outro grande avanço resultante da Revolução
Neolítica foi a invenção de instrumentos e armas de metal, progresso que
ocorreu em primeiro lugar no Próximo Oriente e o efeito de filtragem exercido
pelo deserto do Sara poderá ajudar a explicar a razão de a fusão do minério de
ferro e a forjadura de instrumentos de ferro e de aço surgir na África negra
mais ou menos na mesma altura da fusão dos minérios de cobre e do fabrico de
objectos de cobre (primeira metade do primeiro milénio a.C.).
A existência simultânea de
veículos com rodas e do cobre no Sara ocidental torna plausível a hipótese de
que o conhecimento da metalurgia do ferro terá passado do Norte de África para
o Sudão ocidental e central tão rapidamente como o conhecimento da escrita, que
veio juntamente com a religião islâmica, à qual os africanos do Norte não se
terão convertido antes do século VIII e alguns negros da África ocidental terão
adoptado pelo menos no século X.
Os vestígios indicam que se terá
registado um movimento, com inicio possivelmente cerca de 2.000 a.C. e que
chegou às savanas o mais tardar por alturas de 300 a.C., tendo como principal
consequência que os povos hoje chamados Bantos se tornaram o tronco dominante
em toda a metade meridional de África, à excepção do extremo sudoeste, dentro e
à volta do deserto do Calaàri, onde a precipitação era insuficiente para
permitir as culturas.
Banto é um termo de
classificação linguística. Provem do facto de nas línguas faladas pelos povos
negros actualmente usadas pela quase totalidade dos habitantes da metade
meridional de África existir alguma forma de radical nto, com o sentido genérico de , e de estas
línguas apresentarem um sistema de categorias de substantivos em que uma forma
do prefixo ba- significa o plural da
categoria que denota pessoas. As 400 ou mais línguas banto faladas na enorme
extensão do território a sul de uma linha que vai mais ou menos do monte Camarões,
na costa atlântica, ao monte Elgon, no Uganda, e dai ate à costa leste próximo
de Lamu, são na verdade muito mais semelhantes no vocabulário e na estrutura
gramatical do que sucede por norma – mesmo em áreas muito mais pequenas – com
as línguas do Sudão.
Conquistando e destruindo
Cartago em 146 a.C. os Romanos ocupam as planícies da Tunísia, com as quais
constituíram uma província que denominaram África.
Nos séculos XIX e XX, o evidente
sucesso da colonização europeia encorajou outros europeus a fixar-se. No sul de
Moçambique havia uma comunidade de colonos, muitos dos quais serviam de apoio
às economias do Transval e da Rodésia do Sul, que dependiam dos seus portos, e
em Angola viviam europeus desde o século XVI. Desde a década de 1940, Portugal
começou a encorajar mais cidadãos seus a emigrarem para essas para assegurarem o seu desenvolvimento económico e para
diminuir a pobreza na metrópole. Por volta de 1960, estavam instalados em
Angola cerca de 200.000 Portugueses e em Moçambique cerca de 80.000, onde
constituíam 4,5% e pouco mais de 1% das respectivas populações.
Em 1960 terminou definitivamente
a tentativa para alargar o domínio dos colonos na África tropical a norte do
Zambeze. Ela obteve pouco êxito pelo facto de haver poucos europeus que
quisessem arriscar a sua sorte e a dos seus filhos na tarefa difícil de erguer
Estados nos trópicos, e porque essa tentativa só poderia prosperar durante o
apogeu da confiança da Europa na sua missão imperial. A colonização europeia
ficou então efectivamente limitada às duas zonas temperadas dos dois extremos
do continente onde criara raízes antes da época imperial e prosperara: na
África do Sul, com o prolongamento na Rodésia do Sul, e nas vizinhas colónias
portuguesas, que curiosamente não tinham abandonado a crença na sua missão
civilizadora inicial; e no Norte de África onde, apesar da sua proximidade em
relação à Europa, a teoria da superioridade europeia estava também prestes a
ser abandonada.
Até 1974 Portugal continuou a
ser uma potencia colonial no sentido mais tradicional do termo, apesar de
afirmar que não possuía colónias mas apenas algumas províncias do seu
território, que por acaso se situavam no ultramar. Daí resultou que em meados
dos anos 60 Portugal se encontrava nas suas três colónias – Guine, Angola e
Moçambique – a braços com uma guerra de guerrilha em grande escala, activamente
apoiada a partir dos territórios vizinhos independentes (assim como o eram as
incursões de guerrilheiros na Rodésia). Nos inícios dos anos 70, metade do
orçamento português destinava-se a custear as forcas armadas em África, criando
desse modo uma tensão muito mais forte na sua economia do que sucedera com a
guerra argelina em relação à França. Finalmente, em 1974, o exército e o povo
português estavam já fartos da situação e desencadearam uma revolta. Uma das
primeiras medidas do governo foi reconhecer as exigências dos nacionalistas
africanos em relação à independência dos seus territórios. Dado que esta
revolução garantiu o fim da ditadura que governara Portugal desde 1926, parecia
que os africanos tornavam desse modo extensivos a um povo europeu os benefícios
da liberdade.
A actuação na esfera política
variou entre o bom, no caso do Estado insular das Maurícias, as repúblicas do
Botsuana e Mali, e o ex - Estado marxista-leninista de Moçambique, até o mau,
como no atoleiro de Angola, RDC, Somália e Serra Leoa. Infelizmente, na década
de 90 os golpes militares não eram coisa do passado, como o demonstraram as
experiencias da Gâmbia e da Costa do Marfim – a primeira bastião da
e a segunda de estabilidade democrática durante a maioria do
período pós - independência. Mais comum foi a legitimação eleitoral dos regimes
militares na Líbia, Togo, Guine e Chade; esses países retiveram o seu carácter
essencialmente autoritário. Mais preocupante foi a regressão do que tinham sido
promessas democráticas no inicio da década; estes incluíam a Zâmbia, onde
Chiluba mostrou muitas das características autocratas que criticara em Kaunda,
e o Zimbabué, onde Mugabe, numa tentativa desesperada de se agarrar ao poder,
jogou a cartada racial e desafiou a decisão do Supremo Tribunal relativa à
confiscação de terras pertencentes a brancos.
As independências africanas
ocorreram numa atmosfera protectora que promoveu a absorção das ex – colónias
como membros inquestionáveis da sociedade internacional de Estados soberanos.
Pela primeira vez, a soberania do Estado era aceite na base jurídica de
reconhecimento por parte dos outros Estados soberanos e não na base empírica de
capacidades de governação, defesa e extracção fiscal que desde sempre
constituíra a prova crucial de viabilidade dos Estados. Tal mudança de
paradigma é imprescindível para compreender a viabilização dos Estados
africanos pós – coloniais, muitos dos quais minúsculos, sem saída para o mar,
ou paupérrimos, e que nunca teriam emergido noutro momento histórico.
De acordo com o politólogo
Christopher Clapham, os Estados africanos . Este facto
foi parcialmente obscurecido pela ordem internacional vigente durante a Guerra
Fria porque esta dava às elites africanas o estatuto internacional e os meios
financeiros e políticos para manterem Estados minimamente funcionais.
Até cerca de 2005, houve em África
uma convergência retórica com o liberalismo ocidental que em parte se coaduna
com a tese sobre o de Francis Fukuyama. A grande
maioria dos governos africanos rendeu-se à linguagem e rituais democráticos
mais cedo ou mais tarde, organizando eleições (mesmo que falsificassem os
resultados), permitindo a criação de ONG e espaço para a sociedade civil (mesmo
que as oprimissem e/ou co – optassem) e utilizando com entusiasmo a iria do
reformismo económico liberal (mesmo sem qualquer intenção de o implementar).
África continua dependente de
flutuações do mercado internacional em relação às quais não tem qualquer
capacidade de impacto; e os obstáculos à diversificação das economias africanas
para além da exportação de matérias – primas são cada vez mais significativos.
Este último facto é ampliado pelos limites do Estado africano enquanto
tecnologia de administração e da fraca especialização da força de trabalho
africana.”
J. D. Fage, William
Tordoff, Ricardo Soares Oliveira, Historia de África, Edições 70, Lisboa, 2010





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































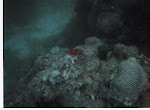

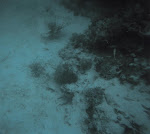
































































Sem comentários:
Enviar um comentário